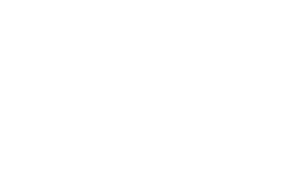Por Jonas Madureira
Hazel Motes é o protagonista de Sangue Sábio, o primeiro romance da escritora norte-americana Flannery O’Connor. Hazel é o pastor fundador da Igreja Sem Cristo e prega o seu niilismo sempre que aparece sobre o capô de seu Essex. Em uma de suas pregações, ele afirmou: “Digo que tem verdades de todos os tipos. Tem a verdade da gente e a verdade dos outros, mas, por trás de todas as verdades, existe apenas uma: que a verdade não existe. […] A falta da verdade, por trás de todas as verdades: é isso que eu e a minha igreja pregamos!”. [1] Perdoe-me a sinceridade, mas não passa de uma tolice acreditar que “a única verdade é que não há verdade”. E é muito simples perceber tamanha tolice. Basta você perguntar o seguinte para o fulano que acredita nessa ideia: “Isso que você acabou de dizer é uma verdade?” Se a resposta dele for “não”, então, fique esperto, porque o fulano é um mentiroso; porém, se ele disser “sim”, das duas uma: ou ele é tolo demais a ponto de não enxergar a própria contradição, ou, então, está mesmo de má fé — diga-se de passagem, uma situação bem pior que a da tolice.
Em contrapartida, o que dizer de um célebre pastor que prega essa tolice? Que ele é duplamente tolo? Cuidado! As coisas não são tão simples como parecem. Experimente chamar de tolo esse famoso pregador, principalmente quando ele está com o microfone em uma das mãos e a Bíblia na outra. As pedradas virão, creia! Em poucos instantes, você será tachado de intolerante, até mesmo por aqueles que não são tão fãs assim da celebridade. Outros questionarão sua piedade e tolerância, e dirão, em alto e bom som, que você está sendo muito arrogante, que é preciso aceitar o diferente, que chamar o próximo de tolo é uma atitude que não condiz com a “maneira cristã” e blá, blá, blá. A razão para tal reação é uma só: a ignorância. Uma das reflexões que li recentemente e que ficou na memória é a do filósofo romeno Andrei Pleşu, ex-Ministro da Cultura e das Relações Exteriores na Romênia pós-comunista. Trata-se de uma observação bastante perspicaz sobre o discurso “politicamente correto” a favor da tolerância pós-moderna:
Assistimos, de fato, a uma modificação substancial de sentido do conceito de ‘tolerância’. Ele já não designa aceitação do ‘outro’, da opinião diferente, mas pura e simplesmente ignorância amável da opinião diferente, a suspensão da diferença como diferença. Disso resulta que: (1) não tenho necessidade de te entender para te aceitar; (2) não tenho necessidade de discutir contigo para te dar razão. Dito de outro modo, estou de acordo com as coisas que não entendo e estou, em princípio, de acordo com as coisas com que não estou de acordo. O senhor tem direito à opinião do senhor. Respeito-a. Eu tenho direito a minha opinião e espero que ela seja respeitada. É inútil a dialética. A tolerância recíproca termina numa mudez universal, sorridente, pacífica, uma mudez porque o diálogo é uma interferência radiofônica indesejável. Nessas condições, a tolerância tem efeitos mais do que discutíveis: ela amputa o apetite de conhecimento, de compreensão real da alteridade, e dinamita a necessidade de debater. Para que negociarmos mais, se o resultado é, de qualquer modo, o consentimento mútuo ao direito do outro? Num mundo governado por tais regras, Sócrates ficaria desempregado. Não se encontra nenhuma verdade, não se faz nenhum raciocínio. Não se exige senão que respeitemos, educados, as convicções do interlocutor. [2]
Ora, para tolerar o outro não é necessário acreditar que todas as opiniões são verdadeiras e que, portanto, não existe a verdade. Afinal, só é possível tolerar alguém de quem discordamos se entendermos que a sua opinião é, de fato, diferente da nossa. Não precisamos tolerar as opiniões com as quais estamos de acordo. Assim, para a vivência da verdadeira tolerância, é necessário o desacordo acompanhado da crítica à opinião tolerada. A tolerância só se manifesta na discordância, na tensão dialética sustentada, na diferença como diferença, como diz Pleşu. Se concordo com a opinião contrária, é porque fui convencido de que a opinião que defendia até então não condizia com a verdade. Nesse caso, já não preciso mais tolerar, pois fui persuadido, estou de acordo.
Contudo, nem sempre o conceito de “tolerância” é assim compreendido. Recentemente, deparei-me com um exemplo típico de compreensão equivocada do conceito de tolerância, quando li o artigo De esquerda ou de direita, sejamos inteligentes e cristãos, de Paul e Raphael Freston, publicado pela Ultimato, nº 346. O artigo é, em suma, um clamor para os cristãos de direita tornarem-se mais inteligentes e cristãos. Não! Não escrevi o título errado! É esse mesmo o título do artigo, embora o clamor feito no decorrer do artigo em nada se assemelhe com seu título. O tema sinalizado no título é, sem dúvida, muito relevante, mas não posso deixar de apontar para como o artigo implicitamente se mostra comprometido com uma concepção preconceituosa dos evangélicos de direita, considerados, de forma velada, como néscios e não cristãos. Afinal, o que isso significa? Isso significa que, no contexto do artigo, os evangélicos de esquerda são os mocinhos e os evangélicos de direita são os bad boys. Fato curioso, pois isso justamente contraria a intenção exposta pelos autores do artigo, desde o primeiro parágrafo. Em suas palavras: “Eu esperaria, da parte dos evangélicos mais favorecidos no sentido educacional, uma discussão madura e não maniqueísta, que ajudasse a comunidade evangélica a amadurecer politicamente e a exercer seu papel na sociedade com mais seriedade”.
Confesso que o título do artigo me chamou bastante a atenção. Entretanto, ao longo da leitura, a frustração foi inevitável. Já no segundo parágrafo, o maniqueísmo, tão combatido no parágrafo anterior, mostrou a sua cara e o seu domínio presente nas entrelinhas do artigo:
Ultimamente, no meio evangélico, têm aparecido vários artigos virulentos contra a esquerda, usando as formas mais espúrias de argumentação, como ataques à moral e às motivações dos que pensam de modo diferente, e a caracterização da esquerda em termos das suas piores manifestações históricas e da direita apenas em termos dos seus ideais. Estranhamente, uma das caracterizações mais comuns é a da esquerda como autoritária. Além de ignorar os exemplos — muito mais numerosos — de autoritarismo de direita, essa caracterização também ignora o profundo compromisso democrático de seus irmãos na fé que se consideram de esquerda. Pior ainda, não se percebe quão irônico é querer defender a democracia com insultos.
Em seguida, a argumentação do artigo passou do ressentimento para a crítica contra o estilo “politicamente incorreto” dos evangélicos de direita. As alegações dos autores são as seguintes: tal estilo só causa danos à comunidade evangélica; o debate político deve ser conduzido de maneira cristã; e, principalmente, os evangélicos de direita deveriam se limitar a “justificar a sua opção pela direita (perfeitamente legítima) em linguagem sóbria e ponderada, e não em linguagem apocalíptica que coloca em dúvida o status evangélico de quem pensa diferente”. E concluem, dizendo: “[Os evangélicos de direita] deveriam liderar o amadurecimento evangélico num debate político mais sério e condizente com a democracia”. O que está nas entrelinhas dessas alegações? Algo muito simples de entender: “Mais uma vez, os evangélicos de esquerda são vítimas dos ataques não inteligentes e não cristãos dos evangélicos de direita”. Pela ordem! O que isso significa? Que a causa do debate destemperado é o suposto discurso alarmista, apocalíptico e maniqueísta dos evangélicos de direita? Seria essa a verdadeira causa do desequilíbrio no debate? Penso que não. Acredito que a causa da destemperança nos debates de ideias não tem tanto a sua motivação nas ideias em si, mas sobretudo na tolice humana.
O que me incomoda, nessa leitura demonizante da direita evangélica, é a pretensão de, por um lado, pintar a esquerda evangélica como a prima pobre da família e, por outro, exigir que os evangélicos de direita sigam à risca uma espécie de job description, um modelo de “argumentação polida” ou um tipo de retórica — obviamente imposto pela esquerda — considerado como a “maneira cristã” para o debate. Ora, se é assim, então, acredito que não estamos mais diante de um debate, mas de um jogo de cartas marcadas, ou seja, diante de uma oposição domesticada, docilizada, que ama sem ser combativa e que está, sobretudo, enquadrada num perfil confortável e tolerável para aqueles que não querem ser contrariados e criticados, e que, principalmente, não querem ver suas ideias combatidas. É preciso urgentemente reaprender o caminho das “almas robustas”. Em Meditações do Quixote, Ortega y Gasset afirma que “o amor também combate, não vegeta na turva paz dos compromissos; mas combate os leões como leões e só chama cães aos que o são. Esta luta com um inimigo a quem se compreende é a verdadeira tolerância, a atitude própria de toda alma robusta”. [3]
Nosso pecado é não querer contrariar o outro por medo de rompermos a paz — nesse caso, uma falsa paz. Por questões de ordem epistêmica, ou seja, porque não estamos acostumados a conhecer, entender ou compreender o pensamento contrário ao nosso, tornamo-nos indulgentes. E tolerância não é nem indulgência nem fazer vistas grossas às nossas diferenças sob a justa prerrogativa de buscarmos a paz e nos empenharmos por alcançá-la. Em casa, meus pais ensinaram-me que o nome disso não é tolerância, mas hipocrisia. A paz não depende da conformidade de ideias, mas da verdadeira tolerância, que suporta a oposição de ideias, buscando compreender, dialogar e debater para alcançar a verdadeira paz.
Agora, todo o cuidado é pouco. Se o seu opositor não aceita ser contrariado e entende que a verdade é uma questão de foro íntimo, sinto em lhe dizer: seu opositor é um tolo. Nesse caso, acho melhor ser cuidadoso ao debater com ele, pois, como disse Mark Twain: “Pode ser que as pessoas não percebam a diferença”. Em suma, a tolice não tem lado. Pode ser tanto de esquerda como de direita. A tolice aprisiona o homem, torna-o escravo de si mesmo ao ponto de levá-lo a crer que a sua voz é a única coisa que merece ser ouvida enquanto o outro fala. Tolos não escutam. Só falam. A capacidade de ouvir, esforçando-se para entender o outro, não é um hábito cultivado pelo tolo. Salomão tinha toda razão quando disse: “o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos” (Pv 18.2).
_______________________________________________________
[1] Flannery O’Connor, Sangue Sábio, São Paulo, Arx, 2002, p. 165.
[2] Andrei Pleşu, Da alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental e outros ensaios, São Paulo, É Realizações, 2013, p
[3] José Ortega y Gasset, Meditações do Quixote, São Paulo, Ibero-Americano, 1967, p. 52.
_______________________________________________________
FONTE: Revista Teologia Brasileira